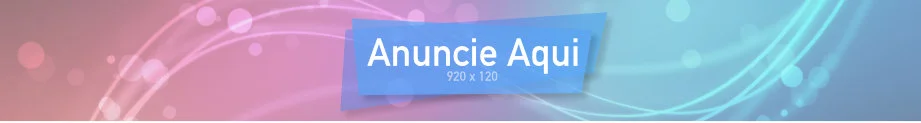No lugar dos jalecos brancos, rostos pintados; em vez do estetoscópio pendendo do pescoço, cocar com grandes penas e muitos adereços coloridos. Foi assim que dois estudantes da etnia pataxó, Amaynara Silva Souza e Vazigton Guedes Oliveira, ambos de 27 anos, subiram ao palco do auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para receber o diploma e se tornarem os mais novos médicos de origem indígena do país – estão entre os primeiros com formação pela UFMG.
Ele é de Cumuruxatiba, no sul da Bahia, ela veio das terras indígenas de Carmésia, no Vale do Rio de Doce mineiro, e se juntaram à turma com 130 alunos.
As pinturas nos rostos são comuns entre as tribos e, no caso da pataxó, representa a figura do peixe. Utilizada em datas festivas, na colação de grau não poderia ser diferente: “Esperei por esse dia minha vida toda”, diz Amaynara. O desejo por um dos cursos mais concorridos nasceu da necessidade de melhorar a qualidade de vida das tribos. A intenção de ambos é se especializar em medicina de família e comunidade e retornar os conhecimentos obtidos na universidade para as aldeias indígenas.
“Eu decidi fazer medicina ainda na minha adolescência, quando eu tinha cerca de 14 anos. Ao crescer, fui percebendo a necessidade da comunidade na área da saúde. Nós precisamos de profissionais”, afirma Amaynara.
Já Vazigton, mais conhecido como Zig por todos os colegas de classe, afirma que os médicos que atendem nessas áreas costumam se deslocar de São Paulo e do Rio de Janeiro. “Eles ficam muito pouco tempo. Tem um rodízio muito grande e, consequentemente, não há o acompanhamento do paciente. Quando você se acostuma, ele já vai sair”, conta Zig.
Adaptação
A mudança dos estudantes pataxós para a capital mineira foi um processo de descobertas e desafios. As dificuldades da transição da aldeia para o meio urbano envolveram desde a geografia à distância da família. Entretanto, segundo Amaynara, essas adversidades foram minimizadas pelo apoio dos outros estudantes. “O maior impacto foi o estilo de vida, que é mais corrido e individualista”, afirma a jovem. Apesar da dificuldade inicial, os jovens fizeram muitos amigos e se dizem bem adaptados aos hábitos belo-horizontinos: “Mas, sinto falta das comidas feitas com base de farinha, como é muito tradicional na Bahia”, conta Zig.
A distância foi a maior dificuldade para os dois jovens médicos. Quando o coração apertava, era o incentivo instantâneo da tribo que salvava. “A família se sentiu muito feliz e contemplada por podermos representar o nosso povo”, diz Amaynara. A dupla conta que a aceitação da migração para a cidade é muito bem resolvida.
Para os colegas da faculdade a troca de experiências também foi muito importante.“Assim como vamos levar o conhecimento para as nossas comunidades, nós trouxemos também informação sobre o nosso povo, que ainda é muito desconhecido, para as salas de aula. Acho que essa troca é muito enriquecedora para a universidade. Se você conhece uma cultura, você aprende a respeitá-la”, afirma Amaynara, exaltando o orgulho por sua origem.
Prioridade no processo seletivo
Tanto Amaynara quanto Vazigton entraram para o curso por meio de um programa da universidade federal que integra as ações afirmativas para indígenas, assim como as cotas e a formação de educadores indígenas, abrindo vagas adicionais a integrantes desses povos. O preenchimento ocorre em processo seletivo específico e beneficia estudantes oriundos de diversas etnias (pataxós, xakriabás, kaxixós, tupiniquins e terenas) que não tiveram acesso ao ensino regular. “É de grande importância o Programa de Vagas Suplementares. É difícil pensar em concorrer com pessoas que estudaram nas melhores escolas da capital”, pontua Zig.